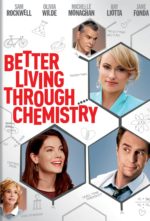
Bons atores: Sam Rockwell, as belas Olivia Wilde e Michelle Monagham, e até Jane Fonda. E então resolvi experimentar este Better Living Through Chemestry, vivendo melhor com a química, no Brasil.
Poderia perfeitamente passar sem essa experiência.
Não que seja um filme ruim no sentido de mal feito. Ao contrário, ele é bem realizado, em todos os quesitos. Tem até umas invencionicezinhas, umas brincadeirinhas formais – nada de novo, de surpreendente, mas tudo bem feitinho.
Como, por exemplo, créditos iniciais muito bem bolados: vemos assim uma pequena cidade como que construída de brinquedinho, como se fosse feita de Lego ou de algum outro jogo, e os nomes dos atores, da equipe técnica, vão aparecendo como se fossem sinais de trânsito, ou nomes de lojas, de produtos nas vitrines.
Há uma voz de narradora em off, o tempo todo, desde o início da ação, logo após o fim dos créditos iniciais bem bolados. A voz é bela, e o texto é gostosinho, bem escrito, com alguma graça, algum humor – e não é que eu, absurdamente, loucamente, não reconheci que a voz da narradora é de Jane Fonda? Morro de vergonha ao confessar isso, mas estou velho demais para tentar esconder pecados.

O protagonista é um homem fraco, que se deixa dominar pelos outros
A narradora nos apresenta o protagonista da história – o papel de Sam Rockwell, ator experiente, aclamado, 13 prêmios e outras 27 indicações. Chama-se Doug Varney, e é o novo dono da única farmácia de sua cidadezinha, Woodbury, 32.561 habitantes. A farmácia era do sogro dele, Walter Bishop (Ken Howard), sujeito mandão, autoritário, que finalmente está – na época em que a ação começa – se aposentando.
Agora que assumiu de vez a farmácia na qual já vinha trabalhando havia anos, Doug gostaria de mudar o nome dela para Varney, em vez de Bishop, mas Bishop, o sogro, faz um discurso firme em defesa da continuidade do nome – e Doug se submete à decisão do pai de sua mulher.
Doug – desde o início o filme deixa isso claríssimo – é uma pessoa que se submete às decisões dos outros. Que não briga pelas suas opiniões, seus pontos de vista. Muito ao contrário: é um homem frágil, que se deixa abater.
Assim como se deixa abater pelo sogro, se deixa abater pela mulher, Kara – o papel da bela Michelle Monagham (na foto abaixo), aqui fazendo, com talento, o papel de uma megerinha, uma mulher chata, dominadora, mandona, e além de tudo monotemática: só pensa em ginástica, exercício físico, aeróbica. Nos últimos seis anos, venceu cinco vezes a corrida anual de bicicleta de Woodbury – e é a dona e a instrutora de uma academia de fitness.
Seca, fria, não quer saber de sexo faz tempo.
É o típico casal infeliz, que vive junto por absoluto comodismo, absoluta preguiça de enfrentar a separação.
O filho único, Ethan (Harrison Holzer), de 12 anos, é o típico aborrescente em crise máxima de aborrescência. O infeliz casalzinho será chamado para uma reunião com a diretora da escola porque o garoto andou botando merda nos armários de colegas e em outros locais.
E é impressionante: os pais não conseguem fazer contato algum com o garoto. Nem sequer tentam .
.
Esse quadro nada agradável é apresentado ao espectador rapidamente, e, como já indiquei acima, com brincadeirinhas formais, com alguma graça, algum humor, e muita ironia.
A narradora, por exemplo, vai nos apresentando os principais clientes da farmácia, as pessoas a quem Doug e sua auxiliar Janet (Jenn Harris) atendem diariamente – e os personagens secundários vão aparecendo numa sequência ágil, em ritmo rápido, daquele tipo em que o quadro fica igualzinho, constante, e só a ação central vai mudando.
Além de Doug e Janet, o quadro de pessoal a Farmácia Bishop tem apenas mais um elemento, Noah (Ben Schwartz), um sujeito completamente doidão, que parece uma criação de Robert Crumb. Noah é o encarregado de fazer as entregas, mas, em determinado dia lá, ele não está bem, não conseguirá trabalhar – e o próprio Doug sai para fazer as entregas em seu próprio carro.
A última entrega do dia é numa casa gigantesca, uma mansão, provavelmente uma das maiores casas da pequena Woodbury, e quem atende a porta é a própria dona da casa, um mulherão – um mulherão, um animal belíssimo, meio bebinha, com um copo de bebida na mão, tentadora, sedutora como a serpente do paraíso.
A Elizabeth Roberts interpretada por Olivia Wilde é parente da Phyllis Dietrichson de Barbara Stanwyck em Pacto de Sangue (1944), da Cora Smith de Lana Turner em O Destino Bate à Porta (1946), da Matty Walker de Corpos Ardentes (1981). É a própria, a típica femme fatale dos filmes noir: belíssima, gostosíssima, um vulcão de sensualidade, todo o poder de todas as sereias das histórias antigas de seduzir o sujeito que aconteceu de passar na frente dela e tragá-lo para os píncaros do prazer e depois lançá-lo ao fogo dos infernos.
Elizabeth Roberts, como suas ascendentes citadas aí atrás, gostaria de se ver livre do marido – o dela, bem mais que o de Phyllis e de Cora, é um homem riquíssimo. O maridão ricaço, Jack, só vai aparecer quando a narrativa já se aproxima do fim. Ele é interpretado por Ray Liotta, o ator que faz bastante tempo se especializou em fazer um papel só, o do sujeito um tanto poderoso, brutamontes, forte, violento, passional.
A bela bebe bastante, mas nunca fica bêbada demais. A bebida é só um complemento: o vício dela é a química, as anfetaminas, dextroanfetaminas, metanfetaminas. O filme cita uns 20 nomes de compostos químicos que deixam neguinho doidão, longe deste insensato mundo.
Uma viciada em químicos ter um caso com um farmacêutico é juntar a fome com a vontade de comer. O antes obediente, tímido, medroso, caretinha Doug Varney vai passar então a misturar remédios nos fundos de sua antes pacata farmácia – e ela e a bela femme fatale vão ficar muito, mas muito doidões.

Substituições de atores foram sorte dos produtores; o filme saiu ganhando
Duas ou três informações, embora este filme não mereça muita consideração.
O filme tem roteiro original e direção de uma dupla, Geoff Moore e David Posamentier. Nunca haviam escrito um roteiro antes, nem dirigido um filme.
O IMDb registra que houve três substituições no elenco, mudanças de planos entre a pré-produção e as filmagens. Originalmente Jennifer Garner tinha sido escolhida para o papel de Elizabeth Roberts, mas ela ficou grávida na época das filmagens, e foi substituída por Olivia Wilde. Na minha opinião, foi uma boa troca, o filme saiu ganhando. Gosto de Jennifer Garner, mas ela tem um tipo físico assim mais de mulher da porta ao lado, de mulher parecida com a vizinha; Olivia Wilde é mais arrebatadoramente bela, como a personagem deveria mesmo ser.
Jeremy Renner foi o ator inicialmente procurado para fazer o papel central, o do protagonista Doug Varney. Tinha outros compromissos, e foi substituído por Sam Rockwell. Mais uma vez, sorte dos produtores, do filme, porque Jeremy Renner em geral faz mais dramas, enquanto Sam Rockwell tem tarimba como comediante.
E, finalmente, a voz da narradora tinha sido reservada para Judi Dench, mas ela saiu fora do projeto, e então os produtores chamaram Jane Fonda. Dame Judi Dench é uma atriz extraordinária, maravilhosa, mas, mais uma vez, foi sorte dos produtores, porque Jane Fonda tem aquela imagem de saúde, exercícios físicos, ginástica, workout, fitness, graças aos programas de TV que protagonizou nos anos 80, e então tem mais a ver como narradora da história que a grande atriz inglesa.
A voz de Jane Fonda está presente ao longo do filme, mas a atriz só aparece na tela uma única vez, no finalzinho do filme. Ela faz o papel dela mesma, em visita à farmácia de Doug Varney, e diz para ele: – “This pharmacy has the most impressive collection of douches I have ever seen”.
Há uma associação óbvia, aí, de ducha com vagina, com assepsia da vagina. Num único momento em que aparece na tela, Jane Fonda faz o público americano lembrar de duas das personas associadas a Jane Fonda: a sex symbol e a ginasta.
O humor do filme não procura ser assim propriamente muito fino.
E, finalmente, uma daquelas informações inúteis mas interessantes: o título original, Better Living Through Chemestry, ou seja, vivendo melhor com a química, extraindo da química uma vida melhor, é, segundo informa a Wikipedia, uma variação de um slogan publicitário da DuPont que foi adotado pela corporação entre 1935 e 1982 e ficou famoso nos Estados Unidos, “Better Things for Better Living…Through Chemistry”, coisas melhores para uma vida melhor… através da química.

O filme mostra uma visão de mundo absolutamente desprezível
Fiquei pensando que este Rolou uma Química é assim uma espécie de colcha de retalhos, juntando temas de diversos outros filmes. Além das semelhanças com os três grandes filmes noir citados aí acima – o encontro de um trouxa, um pato, com uma femme fatale -, ele tem um tanto de Vício Maldito/Days of Wine and Roses (1962), de Blake Edwards, em que o alcoolismo do personagem de Jack Lemmon alimenta o de sua mulher, interpretada por Lee Remick, que por sua vez realimenta o vício do marido, e lá vão os dois montanha abaixo, rumo ao abismo.
Como fala de vício em produtos químicos, faz lembrar também Drugstore Cowboy (1988), de Gus Van Sant, sobre um grupo de jovens viciados em anfetaminas e assemelhados.
E, como o protagonista é um sujeito de profissão útil, importante, mas simples, não glamourosa, não charmosa, que vive num casamento insosso, desagradável, triste, e vai acabar envolvido, sem perceber direito o que está acontecendo, num esquema perigoso, marginal, faz lembrar também O Homem Que Não Estava Lá (2001), dos irmãos Coen, em que o barbeiro de uma pequena cidade, interpretado por Billy Rob Thorton, entra num desvio, num buraco doloroso.
Se faz lembrar tantos filmes, vários deles excelentes, por que então ver este Rolou uma Química me pareceu perda de tempo?
Não é por causa de falta de originalidade na história, pelo fato de parecer tanto com tantos outros filmes. Não é isso.
É pelo tom, pela visão de mundo que o filme demonstra.
É aquele tipo de filme que tem desprezo pela vida simples das pessoas comuns, ou seja, da imensa maioria das pessoas. Que vê o mundo das pessoas simples como um tédio insuportável, o horror dos horrores. Que deixa claro que, sem grandes aventuras, sem feitos extraordinários, sem o glamour, a festa eterna que só muita grana permite, a vida é um pavor, e todo mundo e tudo no mundo é chato, cansativamente chato.
É exatamente o contrário, o oposto do que Philippe de Broca diz em seus filmes luminosos, e o que Paul McCartney canta tanto em suas canções esplendorosas, e Renato Teixeira também persegue, para citar apenas uns poucos – a elegia do simples, da vida normal das pessoas comuns, ordinary people, gente como a gente.
É um daqueles filmes que destilam ódio profundo da classe média, das pessoas que trabalham para garantir seu sustento, que suam para usufruir de algum conforto, alguns bons momentos.
Nisso, ele é um filme à la Marilena Chauí, aquela coisa babante, que destila fel, ódio por todas as pessoas que não passam por necessidades básicas.
É o retrato de uma visão de mundo que eu acho absolutamente desprezível.
Anotação em março de 2016
Rolou uma Química/Better Living Through Chemestry
De Geoff Moore e David Posamentier, EUA-Inglaterra, 2014
Com Sam Rockwell (Doug Varney), Olivia Wilde (Elizabeth Roberts), Michelle Monaghan (Kara Varney)
e Norbert Leo Butz (Andrew Carp, o agente da DEA), Ben Schwartz (Noah), Ken Howard (Walter Bishop), Jenn Harris (Janet), Harrison Holzer (Ethan Varney), Peter Jacobson (Dr. Roth), Tracy McMullan (Bree Bishop)
e, em participações especiais, Jane Fonda (a narradora, e como ela mesma) e Ray Liotta (Jack Roberts)
Argumento e roteiro Geoff Moore & David Posamentier
Fotografa Tim Suhrstedt
Música Andrew Feltenstein e John Nau
Montagem Jonathan Alberts
Na TV (gravado do Telecine Touch). Produção Occupant Entertainment, Altus Productions, Aegis Film Fund, Ealing Metro International.
Cor, 91 min
*

3 Comentários para “Rolou uma Química / Better Living Through Chemestry”