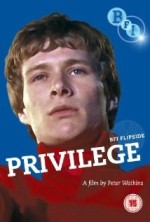
Em 1967, o ano em que os Beatles lançaram Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band e Magical Mystery Tour e os Stones, Between the Buttons e Their Satanic Majesties Request, um estranho filme previa que, no futuro próximo, a Grã-Bretanha viveria num extraordinariamente tenebroso mundo em que governo, religião e indústria cultural se uniriam para usar a música pop como elemento de dominação da juventude.
Um pré-fabricado ídolo pop – Steve Shorter – seria o instrumento manipulado por esse complô conservador, ferrenhamente nacionalista, beirando o nazismo, para fazer com que a juventude não se rebelasse, ficasse quietinha, conformista, conformando-se com tudo – “fora das ruas e da política”, como diz o narrador da história.
Privilégio/Privilege é de fato um filme esquisito. Weird, como se diz na língua daquele povo que vive na mais antiga, absoluta e estável democracia do mundo. Não é um grande filme, de forma alguma – bem ao contrário, na minha opinião. Mas tem importância, como disse na época o grande crítico Roger Ebert e está dito hoje no belíssimo site AllMovie. O diretor, Peter Watkins, tinha acabado de ganhar o Oscar de melhor documentário por The War Game, de 1965.
Paul Jones, o ator que faz o personagem principal, o cantor Steve Shorter, estreou neste filme, e não teve carreira de grande sucesso no cinema: fez algumas séries para a TV inglesa até 1993, e desde então parece ter sumido do mapa.
Jean Shrimpton, que faz a principal personagem feminina, fez apenas dois filmes na vida. Cinema não era a praia da moça lindíssima, um dos nomes mais conhecidos entre as top models dos anos 60.
Estranhissimamente, nenhum, absolutamente nenhum dos demais atores é famoso – ao menos fora das Ilhas Britânicas. Não me lembro de nenhum deles em outro filme qualquer.
A Sight & Sound criticou pesadamente o filme, chamou-o de primário

Então: tem importância – e impressionou bastante o adolescente Sérgio Vaz, quando este o viu, recém-chegado a São Paulo, no início de 1968. (Vixe Maria: como via bons filmes, aquele rapaz. Antes deste Privilégio, vieram: A Faca na Água, de Roman Polanksi, o primeiro depois da mudança para São Paulo, no saudoso Bijou da Praça Roosevelt; A Guerra Acabou, de Alain Resnais; Persona, de Ingmar Bergman; Sindicato de Ladrões/On the Waterfront, de Elia Kazan, e As Duas Faces da Felicidade/Le Bonheur, de Agnès Varda. Uau!)
Sim, o filme me impressionou. Muito provavelmente pela mistura de cenas idênticas à beatlemania com a coisa da distopia, a criação de uma Inglaterra não democrática, à la 1984.
Me lembro ter visto na Sight & Sound, uma respeitabilíssima revista inglesa sobre cinema, uma espécie de Cahiers du Cinéma britânica, uma crítica violenta ao filme, chamando a história de algo do tipo primária, rasteira.
Nunca mais tinha revisto o filme – até agora. Encontrei o DVD, lançado numa Coleção CultClassic, e resolvi experimentar.
Um filme bem intencionado, para alertar sobre o perigo do conformismo
É, sem dúvida alguma, um filme bem intencionado. Queria alertar para o perigo do conformismo da juventude – juventude boa é a que contesta, protesta, é o que o filme está implicitamente dizendo. Queria alertar para o perigo de um governo autoritário usar imprensa e indústria cultural para dominar e embrutecer a consciência das massas – as elites consideram a imensa maioria do povo apenas uma massa de manobra, é o que o filme está dizendo até mesmo explicitamente.

O diretor queria lembrar que a mistura de política e religião pode ser perigosíssima para acabar com as liberdades democráticas e os direitos humanos básicos, fundamentais – e que o apelo para o patriotismo é arma fundamental dos regimes totalitários e/ou abertamente ditatoriais.
Todas intenções muito boas, louváveis, admiráveis.
De boas intenções o inferno está cheio – é assim que se diz?
O filme é fraco. Não se sustenta.
A Sight & Sound estava certa: a história, a trama é de fato primária, rasteira.
O governo quer a juventude longe das ruas e da política
O roteirista Norman Bogner e o diretor Peter Watkins montaram a narrativa como se o que o espectador vê fosse uma grande reportagem de TV, ou um conjunto de reportagens de TV sobre esse fenômeno que é Steve Shorter, que, nos últimos três anos, se estabeleceu como o maior ídolo pop da história da Grã-Bretanha – e seguramente do mundo.
O próprio Steve Shorter diz para uma câmara de TV, bem na abertura do filme, que está muito feliz por voltar à Inglaterra após sua bem sucedida turnê pelos Estados Unidos. Steve Shorter é um rapaz jovem (Paul Jones tinha 25 anos quando o filme foi lançado), razoavelmente boa pinta – mas, já nesta primeira tomada em que aparece, demonstra-se tenso, inseguro, nervoso – nada alegre, nada feliz.
Ele está indo fazer uma apresentação em Birmingham, a segunda maior cidade inglesa – e então vemos a recriação exata de cenas da beatlemania: milhares e milhares de moças gritando histericamente, e empurrando o cordão de segurança formado por policiais, para tentar chegar perto de seu ídolo.
A sequência de fãs histéricas é bem feita, bem encenada – mas de fato os produtores e o realizador poderiam ter se poupado a trabalheira: bastaria usar um de tantos filmes feitos para a TV das multidões nas grandes cidades ingleses em absoluta histeria diante da passagem dos Beatles, em 1963, 1964, 1965.
E em seguida vemos uma apresentação de Steve Shorter em um grande teatro absolutamente lotado de mocinhas que berram e choram pelo ídolo.
 Não é uma apresentação normal de um cantor e/ou banda: é uma encenação, como uma peça de teatro. A música que Steve Shorter canta e encena conta uma historinha. Ele, o narrador da canção, portanto ele mesmo, o ídolo absoluto dos jovens britânicos, está preso. Diversos atores fazendo papel de policiais, com seus uniformes integralmente negros, estão no palco, cassetetes e sorriso sardônico, sádico, bem à mostra. Eles jogam Steve Shorter dentro de uma cela – uma jaula no meio do palco. O rapaz canta que quer a liberdade, pede ajuda. Um policial abre a porta, ele sai – mas acaba levando muita porrada dos policiais e é colocado de volta na cela, algemado. Há sangue nos pulsos do cantor-ator.
Não é uma apresentação normal de um cantor e/ou banda: é uma encenação, como uma peça de teatro. A música que Steve Shorter canta e encena conta uma historinha. Ele, o narrador da canção, portanto ele mesmo, o ídolo absoluto dos jovens britânicos, está preso. Diversos atores fazendo papel de policiais, com seus uniformes integralmente negros, estão no palco, cassetetes e sorriso sardônico, sádico, bem à mostra. Eles jogam Steve Shorter dentro de uma cela – uma jaula no meio do palco. O rapaz canta que quer a liberdade, pede ajuda. Um policial abre a porta, ele sai – mas acaba levando muita porrada dos policiais e é colocado de volta na cela, algemado. Há sangue nos pulsos do cantor-ator.
A voz em off do narrador – que seria o repórter, ou o locutor que narra os fatos da reportagem – faz comentários sobre a extrema violência da performance. “Há atualmente um governo de coalisão na Grã-Bretanha, que tem pedido a todas as agências de entretenimento para que canalizem a violência da juventude, que a mantenha feliz, fora das ruas e da política.”
Mais adiante, um personagem dirá: – “Vivemos em tempos perigosos. A cada esquina espreita o perigo do comunismo e da anarquia.”
O narrador informará com todas as letras que os Partidos Conservador e Trabalhista – que ao longo de toda a História foram rivais, oponentes – haviam se unido para governar a Grâ-Bretanha naqueles tempos de muitas ameaças.
E o status quo, o Establishment, a ditadura formada pela união de partidos não mais oponentes + a Igreja + a indústria cultural, namora as simbologias nazistas.
Ahá: um filme, portanto, de esquerda, alertando contra os perigos da direita! É claro que o Sérgio Vaz adolescente ficaria impressionado com isso.
Alguns críticos – Roger Ebert inclusive – elogiaram muito o filme
Mas minha opinião sobre o filme hoje não tem nada a ver com o fato de que hoje não sou mais simpatizante do comunismo como era na época do lançamento.
O filme é fraco mesmo.
Toda a base da história – essa estranhíssima união de políticos, religiosos e empresários – não é plausível, factível, não tem lógica, não tem sentido.
A adoração absoluta da juventude por esse cantor é esquisita, inexplicável. É simplista, reducionista. Porque é como se só houvesse Steve Shorter na música pop britânica – e, meu, a riqueza, a amplitude do espectro da música pop nas ilhas britânicas nos anos 60 era algo fantástico, gigantesco. Sempre foi, mas exatamente nos anos 60 era um absurdo.
Toda a relação entre Steve e a pintora que um órgão do governo designa para desenhar o rosto dele – o papel de Jean Shrimpton – é distante de qualquer realidade. É falsa, artificial, sem sentido.
A beleza radiante da modelo me parece a única qualidade do filme.
Estou curioso para ver outras opiniões.
 O Guide des Films de Jean Tulard diz: “Watkins filma de maneira espalhafatosa, oportunista, queimando para tomar o lugar de outros oportunistas.”
O Guide des Films de Jean Tulard diz: “Watkins filma de maneira espalhafatosa, oportunista, queimando para tomar o lugar de outros oportunistas.”
O guia de Steven H. Scheuer dá 2.5 estrelas em 4: “Histeria datada sobre como o jeito com que a mídia apresenta uma estrela de rock o torna uma figura quase religiosa com potencial imenso para ter influência política.”
Histeria datada. Concordo plenamente.
Mas olha aí! Não é só o futebol que é caixinha de surpresas. Leonard Maltin deu 3 estrelas em 4: “Super ambicioso e no entanto efetivo relato sobre a Inglaterra nos anos 1960, onde todo poderoso Estado do bem-estar social manipula as massas através de cantores pop. Jones está bem como desiludido ídolo dos adolescentes.”
Mais surpreendente ainda: Roger Ebert, o grande crítico americano, deu ao filme 3.5 estrelas em 4. Assim ele termina sua longa resenha: “Este um filme amargo, inflexível, e embora não seja absolutamente bem sucedido, é fascinante e importante. Watkins cometeu um erro ao levar as técnicas de jornal filmado de The War Game para um filme de ficção, em que um diretor deveria poder escolher a forma de contar sua história, como apresentar as atuações e a fotografia. Ainda aassim, o filme não é um fracasso, e sim um interessante episódio na carreira de um diretor que creio que irá eventualmente ser colocado ao nível de Fellini e Bergman. Como é um ‘filme de diretor’, não mencionei as atuações. Mas Jones está bastante adequado como o cantor pop, e Jean Shrimpton está melhor do que eu esperava. Ela tem alguma coisa de Julie Christie no seu estilo. Não muito, mas alguma coisa.”
Peter Watkins, no nível de Bergman e Fellini?
Acho que aí o grande Ebert pisou no tomate. Mas, em defesa dele, é bom lembrar que todo mundo corre o risco de pisar no tomate, uma vez ou outra. E que sua opinião (o texto é de 1967, o mesmo ano de lançamento do filme) seguramente estava influenciada por The War Game, que parece ser um filme extraordinário. Além do Oscar de melhor roteiro, The War Game ganhou diversos outros prêmios, inclusive um prêmio especial no Festival de Veneza.

No AllMovie, a crítica de Mark Deming começa dizendo que poucos grandes realizados dos anos 60 e 70 são tão sub-apreciados quanto Peter Watkins. Só The War Game está hoje disponível em vídeo nos Estados Unidos; Privilégio nunca foi lançado em vídeo lá e deixou de ser mostrado na televisão após os anos 70.
“Como a maior parte dos filmes de Watkins, Privilege é apresentado na forma de um falso-documentário, neste caso abordando a vida e a carreira de Steven Shorter, um astro pop cuja carreira foi cuidadosamente montada pelo governo britânico (ah… aí é um erro; não foi o governo diretamente) para transformar a rebelião da juventude em algo sem perigo e para encorajar os adolescentes a gastarem seu dinheiro em produtos do Reino Unido. Visualmente, é bastante impressionante; como um falso documentário, parece tão convincente quanto The War Game e Culloden, e em uma escala maior (e mais cara) que esses dois. E, embora a intenção sócio-política seja um tanto mais óbvia do que seria de se esperar de Watkins, o material é manejado com inteligência férrea e uma boa quantidade de humor sombrio.”
 E o crítico do All Movie conclui: “Diferentemente da vasta maioria dos filmes que tentam dar um tratamento sério sobre os astros da cultura jovem, Privilege sugere que as questões reais são menos sobre venda de discos e camisetas para adolescentes que gritam, mas sim o marketing de idéias e posições políticas para uma audiência que ainda está formando suas opiniões, e, se os temas específicos são hoje fora de moda, as idéias básicas por três deles são mais pertinentes que nunca.”
E o crítico do All Movie conclui: “Diferentemente da vasta maioria dos filmes que tentam dar um tratamento sério sobre os astros da cultura jovem, Privilege sugere que as questões reais são menos sobre venda de discos e camisetas para adolescentes que gritam, mas sim o marketing de idéias e posições políticas para uma audiência que ainda está formando suas opiniões, e, se os temas específicos são hoje fora de moda, as idéias básicas por três deles são mais pertinentes que nunca.”
Aí estão opiniões respeitáveis.
A minha é bem diferente. Boas intenções, sem dúvida, muito boas intenções – e uma realização fraca. Uma ficção que não se sustenta, não convence. Um filme ambicioso demais – e, na minha opinião, ruim demais.
Anotação em maio de 2015
Privilégio/Privilege
De Peter Watkins, Inglaterra, 1967
Com Paul Jones (Steven Shorter), Jean Shrimpton (Vanessa Ritchie), Mark London (Alvin Kirsch), William Job (Andrew Butler), Max Bacon (Julie Jordan), Jeremy Child (Martin Crossley), James Cossins (Professor Tatham), Frederick Danner (Marcus Hooper), Victor Henry (Freddie K), Arthur Pentelow (Leo Stanley), Steve Kirby (Squit), Malcolm Rogers (Reverendo Jeremy Tate), Doreen Mantle (Miss Crawford). Michael Barrington (o bispo de Essex), Edwin Finn (o bispo de Cornwall), John Gill (o bispo de Surrey), Norman Pitt (o bispo de Hersham)
Roteiro Norman Bogner
Baseado em história de Johnny Speight
Diálogos e cenasa adicionais Peter Watkins
Fotografia Peter Suschitzky
Música Mike Leander
Montagem John Trumper
Produção John Heyman, World Film Services, Memorial Enterprises. DVD
Cor, 103 min
R, *

E quem é a banda que toca no filme? Emerson, Lake and Palmer também gravaram, certo?
Luiz, confesso que não sei quem toca as canções apresentadas no filme. A principal delas, “Free Me”, é de autoria de Mike Leander e Mark London.
Um abraço.
Sérgio
Pois eu o assisti em 1978 e em 2014. Considero um bom filme. O assunto é tratado de forma pouco comum e tem uma ambientação semelhante à Laranja Mecânica, apesar de bem anterior.
Sérgio, aproveito o post para pedir informações sobre outro filme assistido qdo criança e lembro da cena em que o fabricante de whisky clandestino (Robert Mitchum) corre numa estrada para realizar mais uma entrega noturna e, ao fazer uma curva fechada em alta velocidade depara com um grande espelho colocado pela polícia. Ele se confunde com o próprio reflexo de seus faróis e sofre um grande acidente. Anos 50 -B&W
Paul Jones era o lead singer da banda Manfred Mann, um dos meus grupos favoritos dos anos ’60. Cantava bem demais Rhythm’n’Blues e tocava soberbamente a harmônica.
Jean Shrimpton era namorada de Mick Jagger neste período.
Vi o filme na TV, não lembro exatamente o ano, acho que foi no final da década de sessenta ou início de ’70…